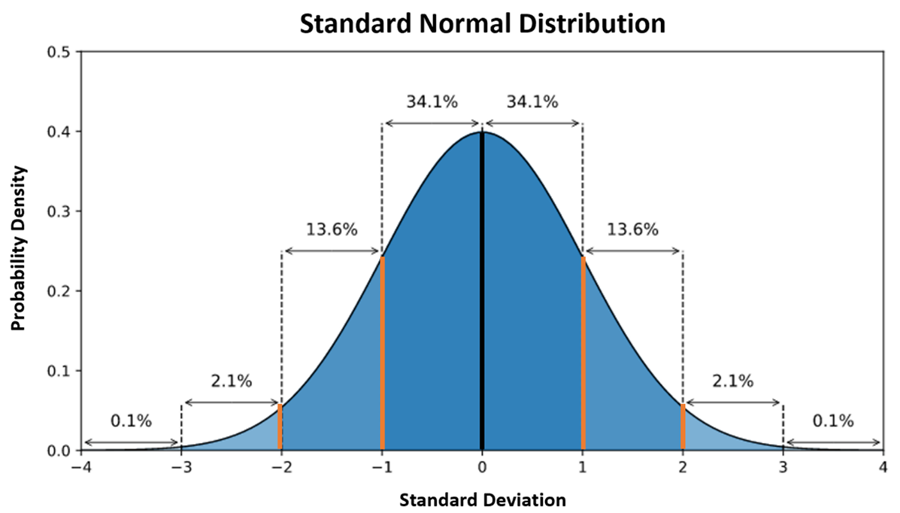Mais do que 100% de identificação
dezembro 23, 2023
Amei o vídeo abaixo. E não falo “amei” no sentido coloquial que às vezes as pessoas usam essa expressão, no fundo querendo dizer nada. Eu realmente amei, de paixão, o vídeo (o texto, na verdade). Até hoje, nessas explorações aleatórias que faço pela internet, não havia achado uma peça que representasse exatamente o que estou vivendo já faz algum tempo. Lembro de que, em outra crise profunda que tive, “descobri” Schopenhauer e Nietzsche. Eles me ajudaram a atravessar uma dor profunda, dando-lhe algum sentido. Agora, estou em uma nova situação de dor profunda (e sem encontrar sentido), a mais longa que já tive, um inverno longo, longo, mais longo de que tenho lembrança. O tipo de inverno que deixa tudo branco, indistinto, indiferente, gerando, como está no vídeo, calos que me impedem de sentir, ao toque, o mundo e suas texturas. E a maior agonia é que, até aqui, não havia encontrado alguém para dialogar – uma pessoa, ou um autor morto (ou vivo, não importa). O vídeo, e seu texto, não chegam a ser o interlocutor definitivo, mas é o mais próximo com certeza. Engraçado que eu, sempre aos fins de ano (quando, normalmente, estou de férias), acabo citando produções desse canal. Mas este, poxa vida. Gostaria de traduzi-lo e ampliar seu alcance, mas acho que pode haver restrições de direitos autorais. O vídeo, porém, tem legenda em inglês, o que ajuda a disseminá-lo. Mesmo assim, cito alguns trechos a seguir, em tradução livre. É uma peça de arte, sensibilidade, precisão e amor.
Quando você era criança, você era cheio de entusiasmo e sensibilidade. O mundo é pequeno, e seus olhos são grandes. Mas quando você vai envelhecendo, tudo se torna maior, e você praticamente fica do mesmo tamanho – no máximo ganha uns centímetros. O caos, a complexidade, e a impossível obscuridade do mundo te cercam e te tomam à medida em que seu senso de significância e segurança diminuem até virarem um minúsculo ponto. Você segue adiante, segue o fluxo. Você faz coisas, realiza coisas, você obtém coisas. Mas nada nunca mais resolve a questão – aquela inquietação profunda, agitação e desolação. Você se acha sempre no mesmo lugar, independentemente do quão forte você tente ou longe você vá. Pessoas queridas morrem, corações se quebram, coisas horríveis acontecem – você percebe cada vez mais as coisas horríveis que poderiam e vão acontecer. Tudo se torna um pano de fundo esfumaçado para os implacáveis problemas do dia-a-dia.
Finalmente, você aprende a como lidar com tudo isso. Você se torna anestesiado. Indiferente. Você faz de tudo para que nada realmente te afete. Não é uma decisão consciente. Você nem se lembra de tê-la tomado. A vida dói ao toque, e então, obviamente, você para de segurar nela com tanta força. Agora, quase nada te afeta muito, mas você também não sente muito mais as coisas. Não é exatamente apatia – pelo menos não no sentido tradicional dessa expressão. Não é exatamente depressão. É alguma outra coisa; alguma coisa entre ou externa a esses termos. Não é um sentimento de que você está em um tipo de areia-movediça, mas muito mais o sentimento de que as coisas estão “okay”, enquanto você está sentado sobre a areia de uma linda praia.
[…]
No fim, a vida move em estações. Não é sempre que estamos energizados ou animados ou principamente sintonizados com o bem. Não conseguimos ser sempre afáveis e receptivos. Nem sempre conseguimos ser brilhantes e transbordar vida. Mas, assim como o solo coberto com neve em uma paisagem invernal contém a habilidade de produzir vida quando a estação muda, assim também você tem a habilidade de fazer germinar uma nova vida quando o momento chegar. Você ainda tem seu mundo interno, suas faculdades, sua perspectiva, sua criatividade, e sua habilidade de adaptar e resistir. Se você não esteve sempre aqui [nessa situação], você provavelmente não estará sempre nela. E mesmo se você estivesse, você ainda conseguiria se adaptar, e você vai ficar okay. Seja em estações de luta, ou em uma experiência de uma vida inteira sentindo a frieza do universo, por meio de sua perspectiva e escolhas individuais, você ainda será capaz de te propiciar conforto, significado, o calor da fortitude invencível. Talvez tudo que tenhamos seja isso – o verão invencível dentro de nós -, mas talvez isso seja tudo de que necessitamos.
Nota. Vale o destaque: “No meio do inverno eu, finalmente, descobri que há em mim um verão invencível” (Camus).