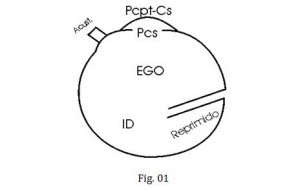Segurança vs. aventura
julho 21, 2012
Tempos atrás escrevi por aqui sobre uma espécie de desejo contraditório, uma luta contínua entre permanência e mudança: por que não, de repente, pôr o pé na estrada? Não usei, na descrição que fiz, a ideia de ‘segurança’, mas Contardo Calligaris, na sua última coluna da Folha, o faz. Ele contrapõe, em tensão paradoxal, a vontade que temos de nos manter ‘seguros’, e o desejo de mudança, de aventura, bem ao estilo ‘hippie’ dos anos de 1960.
Do lado da segurança, penso em nosso medo do desconhecido (algo até banal de se dizer!): no medo do ‘outro’ que não é nosso próximo imediato (embora possa ser um ‘closer’, como no filme de Mike Nichols); no medo da ausência de rotina e do desafio que tal ausência impõe a nosso corpo (em sentido de corpo que afeta e é afetado: quando não se tem uma rotina a organizar, rigidamente, a vida, é nosso corpo que passa a delinear o que nos organiza, o que mobiliza nossos afetos). Talvez uma das formas de ‘segurança’ mais ficcionalmente construídas no ocidente é a da carreira: nela, sentimos que estamos ‘encaminhados’; sem ela, a impressão que se tem é que se caminha à deriva.
Do lado da aventura, podemos pensar na ‘desterritorialização’: em vez de se viver num lugar, vive-se num espaço. Os papéis que usamos para desempenharmos expectativas em registros específicos (no trabalho, com os amigos, mesmo na família) deixam de se fixar em nós com facilidade, e nos tornamos, fazendo aqui um abuso conceitual, o que os filósofos Deleuze e Guatarri chamam de ‘corpos sem órgãos’. No exemplo que eu dei em outro post sobre o assunto, a minha grande ‘fantasia’, se é que posso colocar assim, era simplesmente a de partir, ir para qualquer outro lugar, mas, ao chegar neste lugar, o desejo de partir novamente se apossaria, e o conflito com a ‘segurança’ (inclusive fisiológica, a qual considero cada vez mais forte!) se instalaria novamente.
Eis que Calligaris coloca as coisas em termos ainda mais, digamos, emblemáticos, cruciais ou dilemáticos, quando diz, ao comentar o último filme de Walter Salles (Na estrada):
O filme de Salles está sendo a ocasião imperdível de um balanço -ainda não decidi se festivo ou melancólico. Cuidado, o balanço não interessa só minha geração. Cada um de nós pode se perguntar, um dia, como resolveu a eterna e impossível contradição entre segurança e aventura: quanta aventura ele sacrificou à sua segurança?
Essa conta deveria ser feita sem esquecer que 1) a segurança é sempre ilusória (todos acabamos morrendo) e 2) qualquer aventura não passa de uma ficção, um sonho suspenso entre a expectativa e a lembrança.
Qualquer aventura não passa de uma ficção. Fiquei pensando, então, se nossa própria vida não poderia ser narrada na forma de uma ficção, com diversos personagens representando ‘alter egos’ possíveis de nós próprios, mas jamais plenamente realizados, realizáveis. E não deixaram de ser realizados porque fomos covardes, fracos, abrindo mão de nosso desejo: eles simplesmente não poderiam ser todos realizados, considerando a vida finita que levamos, os custos psicológicos envolvidos nos laços que fazemos e desfazemos, ainda que decidamos, como dizia C. Lasch, viver como um “mínimo eu”.