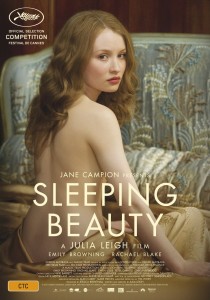Como já mencionei aqui antes, o último filme de Lars von Trier, Melancolia, narra a história do “encontro” do planeta Melancholia com a Terra, encontro esse chamado de A dança da morte. É um filme, portanto, sobre o fim do mundo, mas absolutamente diferente dos Doomsday Films que temos por aí. Não há alarde, notícias de TV, arrependimentos boçais ou lágrimas de crocodilo. O “apocalipse sereno”, digamos assim, se passa ao som de Tristão e Izolda, de Wagner.
O fim do mundo, ao estilo von Trier, é contato sob a ótica de duas irmãs, Justine e Claire. A primeira, com quem o diretor começa seu filme, é apresentada em seu casamento. Inicialmente, o espectador fica com a sensação de tratar-se de mais um evento feliz na vida de uma mulher; porém, à medida que a festa avança, vai ficando clara a desolação da personagem, incapaz de dar o passo necessário na farsa do matrimônio.
Aliás, os 10 primeiros minutos do filme, em aterrorizador slow motion, mostra, entre outras coisas, precisamente o peso, a dificuldade, de viver. Nestas cenas iniciais, parece-nos que um excesso de gravidade prende os personagens à terra, segurando seus movimentos (brilhante cena de Justine, vestida de noiva, sendo constrangida em seu movimento para frente).
Brilhante também é a mudança do humor de Justine: de deprimida (não sustenta seu casamento, terminando-o na mesma noite em que ela o celebra; abandona seu emprego, no qual havia, também durante seu casamento, sido promovida…) para uma personagem com brutal resignação quando descobre que o fim do mundo estava próximo. Frase forte dela: a vida na terra é má; em nenhum outro lugar do universo há vida, diz ela, e esta vida é desprezível. Nada mais anti-cristão. Nenhuma postura poderia ser mais negadora da vida, para dizer como Nietzsche.
Claire, em compensação, faz o percurso inverso: de irmã forte, vigorosa e fibrosa (é ela quem planeja e orquestra a festa de casamento da irmã), tão logo descobre o fim iminente, se torna desolada, amedrontada. Ela lamenta a perda da vida na Terra; onde seu filho viveria (ela tinha um filho)? É o futuro interrompido que a desola. O de seu filho, o seu. Por que tudo terminaria assim? Por quê?
O alívio diante do fim do mundo. A meu ver, esta é a mensagem desesperançosa de Lars von Trier. Um mundo que termina pelo encontro inexorável com a Melancholia. Nada de metafísica. É difícil, num efeito catártico, não se identificar com Justine. Acho que von Trier nos ajuda a ver o quão desolador, o quão anti-metafísica é a vida. Nenhuma sensibilidade cristã consegue ver isso; no fundo, a mística cristã nos faz acreditar num propósito, numa teleologia. Chorando ou serenamente, ambas, Justine e Clarice, enfrentam o fim de olhos abertos.